... "problemática, mas acerta no diagnóstico"
EDUARDO CESAR MAIA
Discussão sobre o que é ou não literatura pode resultar banal e autoritária se não for nuançada
[RESUMO] Professor comenta discussão literária desencadeada após entrevista de Aurora Bernardini na Folha. Embora discorde da posição da tradutora a respeito do que seria ou não literatura, avalia que ela faz um diagnóstico correto ao apontar uma prevalência do assunto sobre o estilo na literatura atual. Para ele, precisamos renovar as perspectivas desse debate para superar essa disjunção equivocada de forma e conteúdo.
A mais recente polêmica no nosso campo literário esconde certas nuanças que, acredito, podem ser mais bem exploradas com certo afastamento do clima apaixonado e pouco reflexivo dos debates de rede social.
Em entrevista para a Folha, a professora e tradutora Aurora Fornoni Bernardini defende que a literatura contemporânea ficou mais pobre ao privilegiar o conteúdo em detrimento da forma.
Para ela, obras que trocam "significante por significado" podem até ser interessantes, mas não se qualificam como literatura de fato, pois carecem de uma preocupação estética com o estilo e a linguagem, o que caracterizaria particularmente a arte literária. A mesmíssima advertência já tinha sido feita pela ensaísta Walnice Nogueira Galvão, em termos muito parecidos, alguns meses atrás na Folha.
Tomada em sentido estrito e literal, a observação de Aurora Bernardini nos soa realmente problemática. Dizer simplesmente que Itamar Vieira Junior, Annie Ernaux e Elena Ferrante — escritores, por sinal, bastante diferentes literariamente entre si — "não são literatura", sem maiores matizações, parece-me somente uma frase de efeito pinçada e colocada em destaque para gerar engajamento virtual.
Se não compreendermos previamente certos debates históricos e teóricos em estética e teoria literária, a respeito dos quais certamente a professora Aurora Bernardini está muito bem-informada, estaremos somente diante de uma banal e autoritária petição de princípio ontológica: tal coisa é ou não é, porque se enquadra ou não em minha definição desta mesma coisa.
Ao que um adversário simplesmente poderia argumentar: "mas a minha definição é outra!". Assim, o debate se enreda numa sequência anódina de apriorismos, em réplicas e tréplicas, que não ajudam em nada na iluminação da interessantíssima questão subjacente.
Ora, ninguém pode determinar definitivamente o que um conceito histórico, como o de literatura, é, foi ou será, porque os usos desse tipo de conceito flutuam temporal e geograficamente numa dinâmica que não obedece a preceitos teóricos ou metodológicos.
Com isso em mente, podemos fazer melhor proveito do interessante comentário da notável tradutora Aurora Bernardini. Disse ela: "Um fenômeno muito curioso acomete o mundo, mas o Brasil em particular: a literatura se baseia no conteúdo e esquece a forma".
Ainda que se trate de uma amplíssima generalização, estou absolutamente de acordo com o diagnóstico e com a questão crítica que ele suscita: o da parca atenção que se tem dado ao engenho imaginativo e à qualidade verbal dos textos literários, seja por parte dos autores, da crítica e, claro, dos leitores contemporâneos — tudo isso em geral, claro.
Mas aqui é preciso matizar mais uma vez a discussão. Na verdade, toda transfiguração literária do mundo pressupõe certo grau de estilização. Não existe literatura sem forma, e isso independe da qualidade literária; o que se pode questionar criticamente numa obra é como a relação entre forma e assunto é efetivamente plasmada, e que efeitos artísticos o autor logra com suas escolhas.
Nas últimas duas décadas, pude acompanhar como crítico, jornalista cultural, jurado de prêmios literários e, principalmente, como professor e pesquisador universitário na área de comunicação e letras, a avassaladora emergência desse fenômeno, que podemos nomear talvez como empoderamento temático-ideológico da literatura e dos estudos literários (chamados agora, com razão, simplesmente de estudos culturais, dada a falta de especificidade com que se trata o texto literário).
Arrisco-me a apontar duas razões para isso: o acirramento da polarização política, alimentada pelo combustível inesgotável das chamadas guerras culturais; e a cada vez menor cultura literária das novas gerações de leitores, o que ocasiona uma óbvia falta de referências e de parâmetros qualitativos.
Curiosamente, há quase 45 anos, o ensaísta José Guilherme Merquior, em As Ideias e as Formas (1981), apontava o problema oposto nas letras e na crítica literária, particularmente no Brasil, onde vicejava o "estruturalismo dos pobres".
O autor de Formalismo e Tradição Moderna (1974) acreditava que o culto formalista — que classificava como "delírio irracionalista", e que teve como modelo os movimentos vanguardistas do início do século passado — fazia com que a criação artística e, em particular, a criação literária abdicassem das ideias (do conteúdo) em nome de um esteticismo radical. Acontecia, então, uma espécie de "usurpação da ideia pela forma".
Essa obra de Merquior, uma joia que merece reedição, permanece, em um certo sentido, atualíssima, ainda que o cenário literário e teórico tenha mudado radicalmente. E digo que o ensaio segue relevante porque Merquior não apenas aponta os problemas do momento, mas sugere caminhos para a superação de uma visão dicotômica de arte; indicações, creio, que ainda podem ser úteis ao nosso tempo, ainda que a mesma dicotomia agora apareça com os sinais trocados.
Em sua autoapresentação crítica, o ensaísta já revelava a formulação central do seu livro: "O pensamento crítico que anima estas páginas não busca apenas analisar ideias e formas — procura surpreender as ideias sob as formas, e também captar a forma das ideias. Por isso não se contenta com uma abordagem puramente aditiva do estético e do ideológico; pretende descrever e julgar o seu complexo acasalamento".
Talvez tenhamos que começar a tentar discutir a questão a partir de perspectivas renovadas, ou novo vocabulário, para superarmos, ou pelo menos atenuarmos, essa improdutiva disjunção teórica entre conteúdo e expressão.
É possível que um meio para começarmos a entender melhor o que significa essa "interpenetração" ou "complexo acasalamento" entre ideias e formas apareça de maneira muito mais nítida em um outro gênero de escrita: no discurso de natureza híbrida que é o ensaio.
É, talvez, na prática do ensaísmo que fique mais evidente que o pensamento não é um exercício independente da linguagem, e que a concepção de um pensamento anterior à expressão é, em definitiva, insustentável.
Na verdade, pensar e exprimir são a mesma atividade: sem verbalização, seja em monólogo interno ou em diálogo público, não há formulação de pensamento. Em suma, pensamento e expressão do pensamento são a mesma coisa.
Por isso, em grandes ensaístas-críticos como o próprio Merquior — ou, para citar exemplos de diferentes tradições intelectuais, um Lionel Trilling, um Edmund Wilson, um George Steiner ou um Octavio Paz —, o estilo, entendido como estrutura dramática do texto, é parte inextricável da verdade que se quer expressar.
Voltando ao nosso tempo, ao diagnóstico de Aurora Bernardini e à literatura que agora viceja e apaixona os corações do público e da crítica, relatarei, para concluir, uma experiência pessoal que se relaciona com tudo o que falei acima.
Estando eu, alguns anos atrás, em meio às discussões finais para decidir qual seria o texto premiado como melhor romance nacional em um importante certame literário, fui surpreendido pela visão de quase todos os demais membros do júri de que a melhor literatura é aquela que "toca nos temas mais urgentes"; a que "registra a verdade sobre os reais problemas da sociedade"; o texto que, enfim, "desperta nossas consciências para as iniquidades da realidade brasileira".
Diante de tais pressupostos, perfeitamente justos e morais, mas que desconsideravam, na economia das obras, quaisquer considerações de ordem formal, expressiva ou estilística, aceitei que minha visão era minoritária e me dei por vencido, pois minhas premissas —que tampouco pretendem ser verdades absolutas—, no que se refere particularmente a questões artísticas, eram, e ainda são, outras.
💧
Eduardo Cesar Maia. Ensaísta e professor da UFPE. 3.set.2025.
Imagem: Abertura da Flipei, Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, no Galpão Elza Soares, centro de São Paulo, em 6 de agosto - Rafaela Araújo / Folhapress








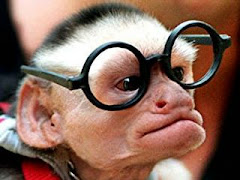
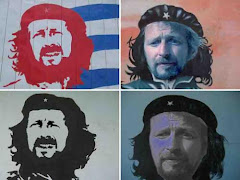


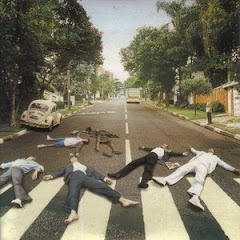






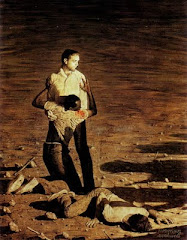







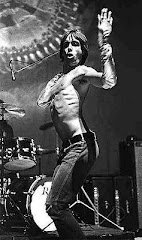
-Trasera.jpg)
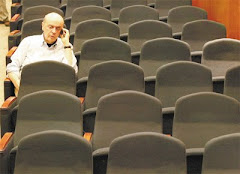

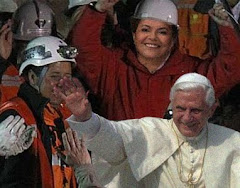



No comments:
Post a Comment