O argumento liberal
O cerne do argumento liberal é a velha lição de Montesquieu: não basta decidir sobre a base social do poder – é igualmente importante determinar a forma de governo e garantir que o poder, mesmo legítimo em sua origem social, não se torne ilegítimo pelo eventual arbítrio do seu uso. Na raiz da posição liberal se encontra sempre uma dose inata de desconfiança ante o poder e sua inerente propensão à violência. Por isso, o primeiro princípio liberal é o constitucionalismo, isto é, o reconhecimento da constante necessidade de limitar o fenômeno do poder. O mundo liberal é uma ordem nomocrática – uma sociedade colocada sob o império da lei, onde todo poder possa ser experimentado como autoridade e não como violência.
Mas o constitucionalismo, condição necessária da ordem liberal, não chega a ser sua condição suficiente. Uma oligarquia liberal não é, hoje, um princípio de legitimidade, embora o tenha sido em tempos como a Inglaterra whig ou o Brasil da Primeira República. É que, nos nossos dias, não há legitimidade fora do ideal democrático, o que supõe a universalidade da cidadania, dos direitos políticos, e não apenas – como na república de tipo whig – a dos direitos civis. Não é só a segurança do indivíduo que se consagra; é também o seu direito de participação política (para não falar de certos direitos sociais). Até nos socialismos de estado, o ideal democrático nunca é negado, é meramente mediatizado pela preocupação – errônea e fatal – de superar as “liberdades burguesas”, supostamente falsas, por meio de um nivelamento democrático dirigido pelo partido-estado. Por conseguinte, para a vigência de uma ordem liberal moderna faz-se mister a conjunção de constitucionalismo e democratização da cidadania.
Por trás dessa universalização da cidadania, reponta uma tardia vitória de Aristóteles sobre Platão. Entre esses dois filósofos lavrou um dos dilemas políticos mais clássicos da Antiguidade: a alternativa entre o governo da sabedoria ou o governo da lei. Para Platão, os homens deviam ser governados pelos sábios; a república ideal é o reino dos filósofos. Para Aristóteles, essa nobre aspiração repousa num erro, o erro de julgar que a diferença de qualidade entre os homens possua uma extensão e constância capazes de justificar a entrega permanente do poder aos melhores dentre eles. A sabedoria, ao ver do Estagirita, não é um atributo distribuído de forma tão nítida ou tão rígida nas coletividades humanas; e porque não o é, não é razoável preferir o governo dos sábios, da casta filosófica, ao império da lei, que já prefigura a moderna preocupação liberal com a necessidade de limitar o poder. Assim Aristóteles, sem ser democrata, ao refutar o elitismo filosófico de Platão, delineou um dos principais postulados liberais de inspiração, em última análise, democrática.
Porém Aristóteles, tanto quanto Platão, ainda estava bem longe da moral basilar do liberalismo: o individualismo moderno, produto da complexa interação de processos históricos posteriores ao mundo clássico, a começar, naturalmente, pelo cristianismo e o capitalismo. E o individualismo moderno pode ser concebido como a admissão, no nível ético-político, do eclipse, ou colapso, daquele summum bonum em que a moral clássica (e clássico-cristã) via o objeto e a meta do bem viver. Pois o substrato ético da ordem liberal moderna seria a dispersão do bem comum – a tendência ao empirismo em moral, cuja encarnação mais característica viria a ser o utilitarismo.
A doutrina liberal conheceu pelo menos três fases principais. Locke e Montesquieu são, por assim dizer, mais ancestrais que fundadores, porque sua teorização precede o advento da revolução industrial e da Revolução Francesa, e o liberalismo cresceu como ideologia profundamente marcada por ambas. O que Locke e Montesquieu legaram ao pensamento liberal foi precisamente aquele postulado: o imperativo da limitação do poder. Locke o argüiu do ângulo da legitimidade, que desde então passou a repousar no consentimento individual (majority rule, minority rights); e Montesquieu perseguiu o mesmo alvo por meio da análise da mecânica dos poderes. Mas o primeiro ato da ópera liberal, após essa imprescindível ouverture, é o que se estende de Benjamin Constant (1767-1830) a Herbert Spencer (1820-1903).
De Constant a Spencer, floresce o paleoliberalismo. Seu maior mérito foi ter acrescentado à teoria da limitação do poder um conceito decisivamente ampliado de liberdade. À liberdade clássica, de participação pública no poder, somava-se o pleno reconhecimento da liberdade moderna, ou livre exercício privado de agires e fazeres conforme a inclinação de cada um. Em suma: à defesa da liberdade política, baseada na autonomia do indivíduo, cumpria aditar a proteção da liberdade civil, alicerçada na liceidade de suas ações. A inserção dessa perspectiva no tema da limitação do poder é de uma clareza cristalina. Do fato de que o poder legítimo procede de todos, argumentava Constant, não se segue que ele possa se estender a tudo. Logo, é preciso limitar o poder. A Spencer caberá (num grau inferior de sofisticação teórica) descrever a evolução política como o triunfo progressivo desse princípio. Ele viu a história da Europa avançada como a vitória da limitação do poder na esfera religiosa (liberdade de confissão) e, num segundo passo, na esfera econômica (laissez-faire).
Em compensação, esse tipo de liberalismo se mostraria singularmente cego ante a dimensão do estado. Nem Constant nem Spencer souberam ver o que viu Tocqueville: que o crescimento da liberdade civil foi acompanhado, e na realidade pressupôs, uma tremenda expansão da regulamentação da sociedade pela lei, isto é, pelo estado enquanto foco emissor de direito. O robustecimento da sociedade civil não ocorreu contra o estado, e sim sob a sua égide. De modo que, aí pela volta do século, o exorcismo do estado, refrão da política spenceriana, já era sobretudo um arcaísmo sociológico. O evolucionismo acertara em cheio ao pintar o progresso como superação do militarismo pelo industrialismo (do que Constant chamara “espírito de conquista” pelo “espírito de comércio”), porque nem mesmo a persistência do fenômeno bélico (na guerra franco-prussiana, nos conflitos balcânicos e, finalmente, na “grande guerra dos homens brancos”, a catástrofe de 1914-18) desmentia, no âmbito europeu, a obsolescência do imperialismo de cunho clássico e dos valores marciais da cultura. Mas o erro do paleoliberalismo estava em confundir essa tendência com um ilusório perecimento do estado.
Bem antes que a ideologia paleoliberal declinasse, uma outra fase da história do liberalismo começou: a fase social-liberal. O centro da nova perspectiva seria a distinção entre liberdade social e liberdade associal, devida ao inglês L. T. Hobhouse, primeiro lente de sociologia na universidade fabiana, a London School of Economics. A liberdade social, baseada na autodisciplina, é algo a ser desfrutado por todos os membros da sociedade; e consiste “na liberdade de escolher linhas de ação que não envolvem dano a outrem”. Há exatamente cem anos, o filósofo neoidealista oxoniano T. H. Green redefiniu a liberdade como algo valioso apenas na medida em que seja meio para um fim – o bem comum.
Essa restauração da idéia de bem comum tinha endereço nitidamente antiutilitarista. E seu sabor potencialmente antiindividualista não deixava de brigar com a posição daqueles que, como Constant ou, sobretudo, John Stuart Mill, se haviam preocupado com padrões de excelência moral e intelectual, sem, no entanto, abandonar a ótica individualista (tanto Constant quanto Mill tinham perfilhado a ética humanista de Wilhelm von Humboldt, o ideal de uma Bildung ao mesmo tempo moralizadora e emancipatória).
Mas o desvio decisivo em relação à prática política estava na ultrapassagem dos dogmas antiestatistas dos paleoliberais. Green sustentava que a coerção estatal não é o único obstáculo à liberdade – barreiras econômicas e sociais também o são, o que torna legítimo, para removê-las, o recurso à ação do estado. De certo modo, Mill preludiara esse social-liberalismo ao aceitar a legitimidade da intervenção previdenciária do estado (que, aliás, nunca fora recusada por clássicos como Adam Smith ou Bentham); mas Mill permanecera contrário à administração permanente do bem-estar coletivo pelo estado, e fiel à concepção minimalista deste último. Os sociais-liberais do fim do século, como Green e Hobhouse, ou os economistas alemães da Verein für Sozialpolitik, como o influente Gustav Schmoller, ficariam bem mais perto de um “liberalismo de estado”. Liberalismo de estado que, no caso desses sociais-liberais ingleses, prefigura o ânimo igualitário do credo “liberal” no sentido norte-americano dos nossos dias.
A rigor, a época social-liberal pode ser colocada entre Mill e os liberals rooseveltianos – ou melhor, entre Mill e Keynes, já que este foi seu grande economista, o diagnosticador e terapeuta das insuficiências do laissez-faire. De resto, a meia distância entre Mill e Keynes, o pensamento social-liberal se veria reforçado pela emergência de uma importante dissociação: o divórcio de liberalismo e otimismo. De Constant a Spencer, o liberalismo vivera encharcado de otimismo histórico, persuadido de que a desimpedida ação dos indivíduos levava sempre à colaboração e ao progresso harmônico do gênero humano. Não é que faltassem, propriamente, pessimistas. Ninguém menos que Mill foi um insigne arauto dos receios causados pela continuação descontrolada do crescimento econômico; e antes de Mill, Tocqueville concluíra que a conjunção da igualdade com a liberdade nada tinha de fatal. Mas geralmente o tom do liberalismo, estimulado pelo magnífico surto de prosperidade do meio do século, era bem otimista.
Dela se separariam, porém, os grandes liberais atuantes ao tempo da Grande Depressão, Lord Acton ou Benedetto Croce. Repudiando a visão rósea do liberalismo clássico, eles reconheceram que a “história da liberdade” (expressão de Acton) é inseparável do conflito. O Kulturpessimismus finissecular deixou sua marca na tradição liberal. Ora, essa nova desconfiança ante a história era basicamente propícia ao dirigismo socioeconômico. Se a mão invisível da Providência não mais assegurava por si só a harmonia entre os homens, então alguma medida de intervencionismo estatal se impunha – do contrário, a própria liberdade estaria em perigo. Esse corolário ainda não é visível num liberal gladstoniano como Acton; mas já o é em Croce, que emergirá da Segunda Guerra Mundial como adversário do liberalismo econômico.
Do predomínio da ideologia social-liberal na era keynesiana (1930-1973) resultou a entronização política daquilo que Raymond Aron chama de “síntese democrático-liberal”: o complexo de direitos civis, políticos e sociais acatados pelas democracias industriais avançadas, e que combina várias liberdades, nos dois sentidos básicos de participação e não-impedimento. Nascida de uma dialética fecunda entre o liberalismo clássico e a crítica socialista, a síntese democrático-liberal não se define por uma noção de liberdade, mas sim por um permanente diálogo social, no qual os grupos interlocutores jogam com diferentes idéias da liberdade ou das liberdades. [1] Preciosa síntese sociopolítica, ainda tranqüilamente insuperada, no mundo contemporâneo, em sua capacidade de assegurar direitos e liberdades. Quem duvida disso, e especialmente que lhe julgue superior a “construção do socialismo” nas ideocracias grotescamente intituladas “democracias populares”, deveria prestar atenção às reivindicações do Sindicato Solidariedade, e reconhecer que as conquistas dos trabalhadores poloneses na Carta de Gdansk representam liberdades corriqueiramente usufruídas no Ocidente – exceto onde regimes autoritários tenham violado os princípios liberal-democráticos.
Essa menção é bastante para refutar o que Norberto Bobbio tão bem denunciou como falácia genética na argumentação antiliberal do marxismo. Os marxistas acusam o liberalismo de não ver que sua cara liberdade não passa de um privilégio de classe, conquistado pela burguesia na época de sua rebelião contra a sociedade feudal. Porém, admitir essa sua origem de classe absolutamente não nos obriga a pensar que as liberdades “burguesas” não tenham, hoje, um valor e alcance universais. A gênese de uma instituição social é uma coisa; sua função e sentido presentes, bem outra. Por isso é que os trabalhadores poloneses lutam pelo que eram, ainda ontem, liberdades civis e políticas defendidas por burguesias à procura de emancipação.
Qual seria a terceira fase da ideologia liberal? Nesses últimos anos, a voga do antikeynesianismo e a viragem direitista na política anglo-saxônica deram novo lustre ao neoliberalismo. Seu maior profeta, o austro-inglês F. A. Hayek, propõe um verdadeiro desmantelamento do social-liberalismo, um retorno em regra ao estado mínimo e à convicção de que o progresso deriva automaticamente de uma soma não-planejada de iniciativas individuais. Quietismo governamental no plano econômico e simples legalismo no plano político-social. Pois a lei, para Hayek, se caracteriza pela sua neutra generalidade, equivalente à ausência de coerção social no sentido de uma opressão de classe. No entanto, observa Aron, muitas vezes a generalidade da lei não elimina seu aspecto eventualmente impositivo, do ponto de vista de dados grupos sociais, para os quais, em certas circunstâncias, a norma legal pode ser um poder ilegítimo. Afinal, as leis, por mais gerais que se entendam, exprimem com freqüência interesses particulares.
Uma coisa é certa: a utopia liberal-conservadora de um puro e simples reino da legalidade dificilmente atenderá aos impulsos democratizantes das sociedades industriais de modelo liberal – e satisfará menos ainda às exigências sociais dos países, como o Brasil, onde a “síntese democrático-liberal” permanece incompleta. O neoliberalismo só confia no jogo do mercado. Mas nós sabemos que o mercado, conquanto seja instrumento indubitavelmente necessário da criação de riqueza e do desenvolvimento econômico intensivo, nem por isso constitui uma condição suficiente da liberdade moderna, porque não é capaz de gerar, por si só, toda uma série de requisitos e oportunidades para o exercício mais pleno e mais significativo da individualidade de muitos. Se suprimir o mercado é ferir de morte o substrato material das liberdades modernas, deixar tudo entregue ao seu império é restringir significativamente o livre gozo dessas mesmas liberdades a minorias – e a minorias compostas de privilegiados pelo berço, e não só pelo mérito.
O neoliberalismo é, portanto, essencialmente, a reprise do paleoliberalismo; e como verificamos as deficiências deste último em matéria de visão histórica e consciência social, parece inevitável preferir, ao retrocesso neoliberal, uma retomada criadora do social-liberalismo.
Cada uma das grandes ideologias políticas contemporâneas – conservadorismo, liberalismo, socialismo – se encontra hoje afetada de não pequeno grau de desmoralização. Por isso Leszek Kolakowski foi particularmente sagaz ao extrair de cada uma delas o seu núcleo de razão e sabedoria. Em Como ser conservador, liberal e socialista, ele adverte que os conservadores estão certos ao sustentar que nem todos os males humanos têm causas sociais, sendo, pois, elimináveis por simples atos de engenharia social; que os liberais têm razão em pretender que o propósito fundamental do estado deve ser a segurança do cidadão, e que o sistema social não deve ser refratário à iniciativa individual; e que, finalmente, a recusa, pelos socialistas, do pessimismo antropológico dos conservadores, de modo a justificar a realização de reformas sociais, onde e quando necessárias, também é perfeitamente válida.
Gostaria de partir desse lúcido ecletismo de Kolakowski para concluir com uma importante distinção entre o conservadorismo e o liberalismo. Fundamentalmente, essas duas ideologias diferem porque, para o conservador, tanto a autoridade estabelecida quanto o statu quo social tendem a ser sagrados, ao passo que para o verdadeiro liberal nunca o são. Assim como o fundo da ética liberal é o utilitarismo, o fundo de sua epistemologia política é o empirismo, a disposição a submeter a autoridade e a ordem ao teste da experiência, sem sacralizá-las a priori.[2]
Mas há uma outra diferença, atinente às respectivas variedades de pessimismo. Conforme relembra Kolakowski, a visão conservadora obedece a um (até certo ponto) justificado pessimismo antropológico, que evita a ilusão de encarar a política, e as mudanças sociais por ela suscitáveis, como panacéia. A política, ou a revolução, nunca pode resolver tudo, porque o problema humano não é apenas “social” (é nesse sentido, é claro, que Freud foi um conservador). Porém, conforme vimos no início deste ensaio, na raiz da ótica liberal, existe um outro “pessimismo”: a idéia, prudente e realista, de que, quando no poder, todos os homens são, em princípio, suscetíveis de abusar dele – e daí a absoluta necessidade de controlar os governantes, limitando-lhes os poderes. Ora, esse axioma, a que James Mill deu uma formulação epigramática, ao escrever que todos os governantes deveriam, até segunda ordem, ser considerados uns patifes, não encerra, como a crença conservadora, um pessimismo propriamente quanto ao homem, e sim quanto à psicologia do poder.
Talvez por esse motivo, o liberalismo é, das nossas três grandes ideologias políticas, a única a levar profundamente a sério o ideal democrático no sentido rigoroso da palavra, de governo do povo. Os socialismos de estado se querem democráticos por serem igualitários, mas ninguém se atreveria a dizer que pratiquem a democracia como forma de governo – exatamente aquilo que a democracia, antes de tudo, significa. Por conseguinte, é puro confusionismo afirmar que a democracia pode ser “liberal” ou “popular”. Enquanto democracia liberal é realmente democracia, variando apenas no grau de seu teor democrático, a popular, na prática, não o é. O argumento liberal não precisa fugir à realidade; mas o antiliberalismo socialista só consegue se estribar num problemático ideal, promessa continuamente refeita e adiada de um paraíso da liberdade.
Resta escrever uma palavra sobre a sorte dessa democracia sans phrase que é a liberal. François Borricaud, em recente e oportuna análise, [3] distinguiu, nas duas paixões democráticas – as paixões de Rousseau: liberdade e igualdade – duas variantes históricas. A liberdade conhece uma versão liberal e uma versão libertária; a igualdade, por sua vez, uma versão meritocrática e outra igualitária, no sentido de niveladora. O que aconteceu, na história da mentalidade ocidental, foi que, por volta de 1950 ou 60, predominavam a variante liberal da liberdade e a versão meritocrática da igualdade. Mas de lá para cá, e ao sabor do gauchisme eclodido em 1968, tendem a prevalecer a versão libertária da liberdade e a variante igualitária da igualdade.
Infelizmente, se essa segunda configuração ideológica viesse a triunfar em definitivo, é possível que o resultado pusesse em risco os próprios valiosos ideais que a inspiraram: a liberdade e a igualdade. Pois o horizonte natural a que tende o liberalismo à outrance é a anarquia, e esta costuma levar a reações despóticas (as situações anárquicas acabam sempre dando razão a Hobbes); e os requisitos operacionais do igualitarismo nivelador induzem a um controle global, um centralismo, de conseqüências, ainda que não de intenções, inescapavelmente liberticidas. Tal é o maior desafio que o moderno liberalismo tem e terá de enfrentar. Do comunismo, a ordem liberal só precisa temer a força, não o poder, tão desgastado, de persuasão. E, todavia, em nossas sociedades cada vez mais permissivas e reivindicatórias, ela não está completamente a salvo da perversão interna de seu próprio ânimo: o velho, nobre espírito de liberdade e igualdade.
[1] Ver Raymond Aron, Estudos Políticos (trad. de Sergio Bath; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1980), especialmente p. 221-51, e minha introdução (pessimamente traduzida do francês por autor desconhecido) ao mesmo volume, seção V.
[2] Sobre essa conexão liberalismo/empirismo, ver Celso Lafer, Ensaios sobre a Liberdade (S. Paulo: Perspectiva, 1980), cap. 3, seção 4.
[3] Le Bricolage Idéologique (Paris: P. U. F. , 1980).
MERQUIOR, José Guilherme; O argumento liberal.










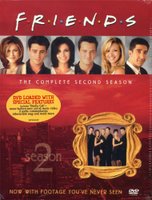
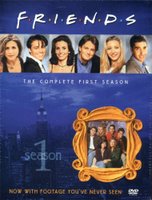




























-Trasera.jpg)





