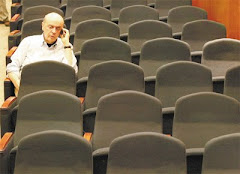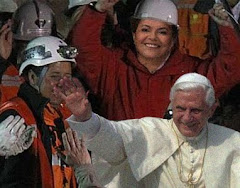Thursday, July 21, 2011
Wednesday, July 20, 2011
[...] "De tudo o que eu disse até o momento, seria possível inferir que o juízo estético não é voluntário. Na verdade, isso não precisa ser dito. Toda intuição, seja comum ou estética, é involuntária quanto ao seu conteúdo ou resultado. O juízo estético de cada um, por ser uma intuição e nada mais, é acolhido, e não oferecido. Não se escolhe gostar ou deixar de gostar de determinada obra de arte mais do que se escolhe ver o sol como luminoso ou a noite como escura. [...] Por outras palavras: a valoração estética é reflexiva, automática, e jamais se chega a ela por arbítrio, deliberação ou raciocínio". (Clement Greenberg)
Clement Greenberg - A Intuição e a Experiência Estética / Convenção e Inovação
Clement Greenberg - Estética Doméstica
Marcadores: Estética
Tuesday, July 19, 2011
Marcadores: Estética
Sunday, July 17, 2011
É uma cadeira bem feita, trágica ou cômica? É o retrato de Mona Lisa bom, se o desejo ver? O busto de Sir Philip Crampton é lírico, épico ou dramático? Se não é, por que não o é? Se um homem, trabalhando com fúria, um bloco de madeira faz aí a imagem duma vaca, é essa imagem uma obra de arte? Se não, por que não?
Marcadores: Estética, James Joyce
Friday, July 15, 2011
Marcadores: Estética, James Joyce
Tuesday, July 12, 2011
Marcadores: Estética, Merleau-Ponty
Sunday, July 10, 2011
Marcadores: Estética, Lorenzo Mammì
Thursday, January 03, 2008
Friday, December 07, 2007
A Apreensão do Belo
1. O estudo de Melanie Klein publicado em 1946 “Notas Sobre Alguns Mecanismos Esquizóides”, que introduziu as idéias sobre identificação projetiva e os processos de ruptura (splitting), destruiu o postulado da unidade da mente. (...) além do mais, abriu caminho para a multiplicação dos “mundos” da vida mental de um modo não previsto.
De forma ainda mais radical, Wilfred Bion propôs uma transformação que “divide a vida mental nas áreas simbólica e não-simbólica, enfatizando a mente como um instrumento para pensar a respeito de experiências emocionais. No entanto, a firme atitude de Bion ao relegar o pensamento criativo ao processo onírico inconsciente, e sua limitação da consciência como sendo o “órgão para a percepção das qualidades psíquicas”, deveriam com o tempo dar um golpe definitivo na equação da “razão” com consciência, e alterar profundamente nossa visão a respeito do modo como vivemos nossas vidas. Modifica-se radicalmente o modelo de Freud: o Ego se transforma no cavalo, estranhando cada objeto desconhecido em seu caminho, desejando perpetuamente prosseguir do modo que sempre foi; e os objetos internos inconscientes tornam-se o cavaleiro que o dirige sem quartel em direção a novas experiências de desenvolvimento.
(...) Ficou patente a necessidade de um modelo muito mais complexo para descrever os enganos, inconsistências e a impressionante auto-ignorância dos seres humanos.
(...) "A direção de objeto-relações assentada por Abraham”, (...) “delineou as relações parciais e totais dos objetos”. Os objetos ditos parciais ficam (...) “privados de sua mentalidade essencial, de sua capacidade para sentir, pensar e julgar”, ao mesmo tempo em que mantêm suas “características formais e sensoriais. Estes objetos podiam ser usados, valorizados, temidos, aplacados, mas não podiam ser admirados e amados, não podiam ser protegidos nem cuidados”.
2. (...) “a mente é a função geradora de metáforas que usa o grande computador” (cérebro) “para escrever sua poesia e pintar seus quadros de um mundo cintilante de significados. E significado é, em primeira instância, a manifestação fundamental das paixões da relação íntima com a beleza do mundo”.
A partir do momento que se incorpora a descrição de Bion a respeito de uma “experiência emocional” como o primeiro evento no curso do desenvolvimento, fica claro que seus conceitos fazem (...) uma distinção entre, de um lado, a formação simbólica e o pensamento, e de outro um uso computadorístico de signos e modos simplificados de extrapolação de experiências e idéias recebidas do passado. A criação de símbolos idiossincráticos, por oposição à manipulação de signos convencionais, constitui um divisor de águas entre o crescimento da personalidade e a adaptação. A tensão entre os dois é a essência daquilo que Freud rotulou como “resistência à investigação”. A distinção feita por Bion entre “aprender pela experiência” e “aprender a respeito” do mundo é precisa. É também marcada pela distinção que fazemos entre formas narcísicas de identificação (projetiva e adesiva) que produzem uma alteração imediata - e um tanto enganosa - no sentido de identidade, e o processo introjetivo através do qual nossos objetos internos são modificados estabelecendo gradientes de aspiração para o crescimento do self.
3. Nossas vidas ficam em grande parte ocupadas por relações que não são íntimas. O “Contrato Social” de Rosseau descreve muito bem o modo pelo qual movimentamo-nos no mundo, utilizando a lubrificação dos bons modos e dos costumes, da conformidade e da invisibilidade social com a finalidade de minimizar a fricção e, portanto o desgaste rasgo em nosso psique-soma.
4. Em “Inveja e Gratidão” livro de 1957, Melanie Klein estabeleceu o conceito de “inveja em relação ao objeto bom, com o intuito de apossar-se de suas características boas”.
(...) “Tal ambigüidade pareceu ter sido resolvida por Bion quando ele descreve as emoções como “vínculos”, descartando as dualidades tradicionais de amor e ódio e substituindo-as por um confronto mais complexo e filosoficamente mais penetrante. Inicialmente ele estendeu o raio de ação dos vínculos passionais, ao incluir o conhecer, juntamente com o amar e o odiar”.
(...) No entanto, Bion não se afasta do vínculo fundamental entre a dor mental e a frustração até (quando) ele introduz a idéia de “mudança catastrófica”. É a “nova idéia” que se abate sobre a mente como uma catástrofe, pois, para ser assimilada, detona o fluxo de toda a estrutura cognitiva. (...) Caso sigamos de perto o pensamento de Bion, vemos que a nova idéia se apresenta como sendo uma “experiência emocional” da beleza do mundo e de sua maravilhosa organização (...).
(...) O panorama descortinado pela formulação de Bion a respeito da dor mental e do prazer mental implica que o conflito intrínseco dos vínculos mentais positivos e negativos, perimetrais ao desejo e ao interesse, sempre se faz presente; em conseqüência, no nível passional – no qual a vida onírica segue seu curso – o prazer e a dor estão sempre inextricavelmente unidos. No entanto, este conflito essencial (a partir de cuja matriz o “aprender da experiência”, se desenvolve para produzir mudança estrutural por oposição a acréscimo de informação) precisa encontrar sua representação simbólica (função alfa) para tornar-se disponível para os pensamentos oníricos, transformação em linguagem verbal (ou outras formas simbólicas, como nas artes) e elaboração através de abstração, condensação, generalização e outros instrumentos de pensamento sofisticado.
A tolerância deste conflito, que forma a essência da força do ego, reside naquilo que Bion denominou “capacidade negativa”: a capacidade de permanecer na incerteza sem procurar com irritação o fato e a razão.
Na luta contra a força cínica dos vínculos negativos esta capacidade de tolerar a incerteza, o não-saber, a “nuvem de desconhecimento”, é constantemente solicitada na “paixão das relações íntimas e se situa no centro da questão do conflito estético”.
5. Não há nenhum evento da vida adulta que tenha sido tão calculado para originar nossa admiração frente à beleza e nosso maravilhamento frente aos intrincados mecanismos daquilo que denominamos Natureza quanto os eventos da procriação. Não há flor ou pássaro, por mais chamativa que seja sua coloração ou plumagem, que possa nos impor o mistério da experiência estética como a visão de uma jovem mãe amamentando seu bebê. Adentramos a um berçário como se penetrássemos em uma catedral ou nas florestas do Pacífico, pé ante pé, tirando o chapéu.
(...) A experiência estética da mãe com seu bebê é comum, regular, costumeira, pois tem milênios atrás de si, desde que o homem pela primeira vez viu o mundo “como sendo” lindo. E sabemos que isto data pelo menos desde a última glaciação.
“De modo análogo, deve-se apenas às nossas limitações em poder identificar-nos com o bebê o fato de deixá-lo, em nosso pensamento, privado de mentalidade”.
6. Relações íntimas – (...) A devotada mãe comum apresenta ao seu lindo bebê comum um objeto complexo de enorme interesse, tanto sensorial como infra-sensorial. Sua beleza externa, concentrada, como deve ser, nos seios e na face, complicada em cada caso pelos mamilos e pelos olhos, bombardeia o bebê com uma experiência emocional de qualidade passional, resultando em que o bebê seja capaz de ver estes objetos como “lindos”. Mas permanece desconhecido para o bebê o significado do comportamento de sua mãe; do aparecimento e do desaparecimento do seio e da luz de seus olhos, de uma face na qual as emoções passam como sombras de nuvens sobre a paisagem. Afinal das contas, o bebê veio para uma terra estranha onde ele desconhece a linguagem e também as indicações e comunicações não-verbais costumeiras. A mãe lhe é enigmática; ela exibe um sorriso de Gioconda a maior parte do tempo e a música de sua voz fica constantemente mudando do tom maior para o tom menor. Como “K” de Franz Kafka o bebê precisa esperar por definições advindas do “castelo” – o mundo interno de sua mãe. O bebê fica naturalmente em guarda contra um otimismo e confianças sem brigas, pois ele já dispõe de uma experiência dúbia, da qual escapou ou foi expulso – ou talvez o bebê, e não sua mãe, tenha “parido” perigo! Pois não obstante o fato de tirar de dentro de si o morder, ela também lhe fornece uma coisa que explode que ele precisa expelir por si mesmo. A rigor ela deu e tirou, tanto as coisas boas como as coisas ruins. O bebê não consegue discriminar se a mãe é Beatrice ou sua Belle Dame Sans Merci. Isto é conflito estético, que pode ser enunciado de modo mais preciso em termos do impacto estético do exterior da “linda mãe”, disponível aos sentidos, e do enigmático interior que precisa ser construído por meio da imaginação criativa.
(...) O elemento trágico na experiência estética reside na qualidade enigmática do objeto – não na sua transitoriedade.
É neste aspecto que o conflito estético difere da agonia romântica: sua experiência central de dor reside na incerteza.
(...) através do vínculo K, o desejo de conhecer, e não de possuir o seu objeto de desejo. O vínculo K assinala o valor do desejo enquanto estímulo ao conhecimento, e não apenas um clamor de gratificação e controle sobre o objeto. O desejo torna possível, até essencial, dar ao objeto sua liberdade.
(...) Coloca os valores humanos em mente, olhando para frente, para o desenvolvimento, e para a possibilidade de um objeto enriquecido cuja aquisição é possível justamente graças à sua perda.
(...) Como demonstrou Melanie Klein, é verdade que a mudança envolve a transformação do auto-interesse na própria segurança e conforto para a preocupação com o bem-estar do objeto amado. No entanto, isto não descreve o modus operandi da mudança. Pois é a busca pela compreensão (vínculo K) que salva a relação de um impasse, a interação de alegria e dor que engendrara os vínculos de ambivalência amor (L) e ódio (H). É neste ponto que a Capacidade Negativa se faz presente, onde o Belo e a Verdade se encontram.
Donald Meltzer - A Apreensão do Belo
Marcadores: À guisa de filosofia, Estética, Ética, Sobre leituras
Sunday, October 21, 2007
Paolo Veronese, mestre do Renascimento, pintara para o refeitório dos beneditinos, na ilha de San Giorgio Maggiore, em Veneza, uma pintura representando o episódio bíblico das bodas de Caná.
Veronese adaptara a tela enorme, 6,77 m x 9,94 m, à sala criada por Palladio. É em 1563 que, maravilhados, os venezianos assistem à conjunção criadora desses dois gênios. Porém, no final do século 18, o general Bonaparte invade a Itália. Como butim, leva obras de arte para o Louvre, museu universal que então se formava em Paris.
Entre elas estava a imensa pintura de Veronese. Até hoje os venezianos não se conformaram com o rapto. Ora, o "New York Times" traz um artigo contando que "As Bodas de Caná" voltaram para o velho refeitório do convento.
Não o original, que continua no Louvre. Dele foi feita uma cópia digital idêntica. Nada desses sucedâneos aproximativos, tristes e anêmicos. Um clone, com o mesmo exato colorido, com matéria equivalente, com os acidentes e o relevo sutil da superfície pictural sobre tela. A palavra clone foi usada como sinônimo de monstruosidade por um universitário italiano a respeito dessa réplica.
Adam Lowe, autor da reprodução, a recusa: "Nossa obra não é um clone, mas um profundo estudo detalhado". Resta que, monstro ou não, a metáfora do clone é bem tentadora. Outro crítico, Pierluigi Panza celebra: para ele trata-se do "terceiro milagre".
Entende-se: o primeiro foi quando, em Caná, Cristo transformou a água em vinho. O segundo, a própria pintura de Veronese, grande obra-prima. O terceiro, a reprodução que, dizem, o olho não consegue distinguir do original.
Pode ser que haja exagero. Pode se tratar de um mero factóide. No entanto a hipótese de uma identidade absoluta entre "As Bodas de Caná" e sua cópia reforça várias questões teóricas. Mesmo quando a perfeita imitação não ocorre, situações desse tipo indicam que a dimensão mais crucial da arte está na aparência, não na matéria.
Essa dimensão se vincula à idéia de semelhança que, ao contrário da imitação, suscitou pouca teoria. Proust a emprega como formidável meio de compreensão do mundo. Seu narrador discorre sobre pinturas a partir dos mais diversos tipos de reprodução: gravuras, cópias, fotos. Embora não seja o universo da teoria, mas do romance, Proust sugere que a característica mais definidora da arte é imaterial.
A arte tem sua junção entre aquilo que a obra oferece ao espectador e o que é captado por ele. Está numa terceira margem do rio. Perder sua materialidade de coisa é o que lhe permite passar do original para as cópias, réplicas, citações, lembranças, múltiplos.
A existência da obra para além de sua materialidade contraria o fetichismo do objeto artístico, que os românticos sublinharam tanto, confundindo arte e relíquia. Walter Benjamin herdou deles as convicções expostas no texto conhecido sobre "a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica", em que vislumbra uma aura exclusiva própria dos originais, capaz de ser detectada sabe-se lá por quais poderes.
Uma tal imaterialidade contraria também o mercado das artes, que sempre engorda com a sobrevalorização dos originais. Qual é o autêntico: o quadro original de Veronese, que está no Louvre, fora do seu lugar, de sua escala, em concorrência com outras obras, ou a réplica perfeita, instalada na luz e no espaço únicos para os quais foi concebido?
JORGE COLI - COLUNISTA DA FOLHA
Marcadores: Estética
Saturday, October 20, 2007
FERREIRA GULLAR - Eu não costumo planejar as coisas, vêm inesperadamente. Depois que eu adoto a idéia, eu sou sistemático, e aí é outra coisa, mas eu nunca planejei fazer esse livro. Surgiu do fato de que, escrevendo eventualmente colaborações daqui e dali, enfim, voltam as questões da arte concreta e neoconcreta. As pessoas me perguntavam coisas, e coisas que eu lia e não correspondiam à realidade. Eu que fui o autor do manifesto, o autor da teoria do não-objeto, modéstia à parte, tive uma participação decisiva na criação desse movimento, mas chegou um momento em que eu me afastei.
Então, ele seguiu em frente, e aí tomaram conta dele [risos]. Grande parte do que fiz não publiquei, como os livros-poema. Idéias que ficaram no manifesto foram sendo postas de lado e se criou uma teoria e uma interpretação do movimento que eu acho que não corresponde exatamente à verdade. Então, eu digo: é necessário botar as coisas nos seus devidos lugares, até para as pessoas compreenderem que é um movimento importante da arte brasileira. Há a contribuição da Lygia [Clark], do Hélio [Oiticica], do Amilcar [de Castro], do Weissmann, enfim, do grupo todo, e é muito importante.
FOLHA - Você mostra a cisão entre os grupos paulista e carioca na poesia e nas artes entre os concretos e os neoconcretos?
GULLAR - São coisas diferentes. A arte concreta e a poesia concreta são, de fato, preponderantemente paulistas. Houve contribuição do grupo do Rio no começo e, sobretudo, quando se refere à poesia, a gente começou mais ou menos junto e tal, mas depois houve a ruptura em condição de discordâncias teóricas, que eram, na verdade, expressão de uma tendência que preponderava mesmo no grupo de São Paulo. Já preponderava entre os pintores com o Waldemar Cordeiro.
A gente aqui no Rio achava ele racional demais, muito excludente das outras complexidades. Depois, com os poetas, quer dizer, com a tese de uma poesia que era feita segundo um plano piloto, coisas com as quais nós não concordávamos.
Era muito mais teoria do que prática. A poesia será feita segundo fórmulas matemáticas... Aí não é possível fazer. Eu considero charlatanismo dizer uma coisa que não pode ser feita. O movimento neoconcreto não nasceu como uma resposta ao concretismo de São Paulo. Essa cultura nasceu em meados de 57, o movimento neoconcreto só nasce em 59, quase dois anos depois.
FOLHA - Você considera que o primeiro marco da sua obra é "Luta Corporal", em 1954? E, na época, qual era a sua relação com poetas de gerações anteriores, como João Cabral, Drummond, Murilo Mendes, Manuel Bandeira?
GULLAR - Quando eu comecei a fazer poesia em São Luís do Maranhão, tinha 17, 18 anos, nem conhecia esses poetas. Não conhecia ninguém. Eu costumo dizer que São Luís era Macondo, lá ainda se fazia poesia parnasiana. Quando eu tomei conhecimento da poesia moderna, foi uma coisa estranha, surpreendente. Em seguida, eu procurei ler sobre aquilo, entender, aderir a essa visão nova e de maneira mais radical do que os próprios poetas da época. E daí "Luta Corporal" ter se tornado mesmo tão exclusivo, que terminou com a desintegração da linguagem, porque não aceitaria qualquer princípio a priori para fazer poesia. Qualquer norma agora, nada eu aceitaria. Esse fato me levou a desintegrar tudo.
Quando eu descobri esses poetas, quer dizer, Drummond, Murilo Mendes, eles contribuíram para me revelar, evidentemente, uma outra visão do que era a poesia. Uma poesia mais ligada ao mundo cotidiano, às constâncias atuais, à realidade material do mundo. Lia todos os dias esses poetas, Bandeira, Murilo, Drummond, lia, relia. Depois, comecei a descobrir os outros poetas do mundo, Rilke, foi uma revelação quando eu conheci a poesia dele, aí depois Rimbaud, Mallarmé.
FOLHA - Você defende a idéia de que a poesia neoconcreta tem uma nova sintaxe, mas não um novo verso...
GULLAR - Veja bem, o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos tinham publicado um artigo em que eles diziam que se tratava de buscar um novo verso para a poesia. Aí eu falei para eles: não se trata de um novo verso, se trata de uma nova sintaxe, porque o verso já era. A sintaxe foi desintegrada, tem de ser buscada uma nova sintaxe. O que o grupo de São Paulo fez? Eles criaram, de fato, uma nova sintaxe, que foi a idéia do poema visual, o poema cuja construção não é a sintática, a sintaxe vocabular, a sintaxe da língua, mas o que eles dizem: as relações de proximidade e semelhança entre as palavras. Então, é uma outra forma de construir o poema. Isso é uma coisa nova, eles que fizeram.
FOLHA - Por que sua poesia partiu para o tridimensional? Seus poemas estão em exposições de artes...
GULLAR - Pois é, comecei a fazer o livro-poema. Como eu posso construir um poema que obrigue o leitor a ler palavra por palavra e que no final resulte em uma estrutura visual? Procurei criar um livro que obrigasse o leitor a ler palavra por palavra. Esse fato foi decisivo no neoconcreto. O que distingue a poesia concreta? A participação do espectador na obra de arte. E nasceu do livro-poema, mas eu não inventei nada.
FOLHA - No livro, você diz que seu poema "Fruta" influenciou a série dos "Bichos", da Lygia Clark?
GULLAR - O "Fruta" já é um objeto, ele não é mais um livro. A maneira como ele abre é como se você estivesse assim abrindo uma flor, você tira uma pétala, abre outra pétala, abre outra e aí no fundo está a palavra "fruta" [Gullar pega um "Bicho" e mostra as semelhanças do movimento da escultura]. A Lygia estava desintegrando a pintura e tirando do plano o elemento tridimensional. Estava fazendo os "Casulos", que inchavam a tela, que criavam uma terceira dimensão. Ela partiu para criar uma coisa no espaço, que não é uma escultura, na verdade, é uma coisa que nasce da pintura.
FOLHA - E você diz que seu "Poema Enterrado" influenciou projetos de Hélio Oiticica.
GULLAR - Sim. Depois que eu fiz "Fruta", que já era um objeto, eu pensei: bom, vou fazer objeto a partir de agora. Não vou fazer mais nem livros nem coisas parecidas com livros. Depois, vamos fazer algo com a participação corporal. Agora, não é só a mão que vai participar, agora é o corpo inteiro. E como será? Eu tenho de entrar no poema. Eu imaginei entrar no poema e aí bolei o "Poema Enterrado", que é uma sala no fundo do chão, em que o cara desce por uma escada, abre a porta e entra no poema e lá tem os cubos. Tem lá um cubo vermelho, você levanta, depois tem um cubo verde, você levanta e depois tem um cubo menor que você pega do chão e lê a palavra: "rejuvenesça".
Então, eu publiquei o projeto desse "Poema Enterrado" no Suplemento Literário do "Jornal do Brasil". Aí o Hélio Oiticica leu e me ligou. Falou: "Cara, achei genial, vamos construir. Meu pai está construindo uma casa nova aqui na Gávea Pequena e eu vou dizer a ele para a gente construir o "Poema Enterrado" no quintal". O pai depois se rendeu e construiu o "Poema Enterrado". Quando nós fomos ver, no dia da inauguração do poema, tinha chovido na véspera, o poema estava inundado [risos].
O "Poema Enterrado", do final de 59, teve influência sobre o trabalho do Hélio. Anos depois, os projetos "Cães de Caça", que o Hélio fez, são labirintos que a pessoa percorre, quer dizer, tem essa participação corporal, é uma coisa que foi antecipada pelo "Poema Enterrado". Não estou querendo dizer que eu sou o genial criador da arte neoconcreta. Nós éramos um grupo e havia uma permuta permanente de idéias.
FOLHA - Você fala no livro que Lygia Clark e Hélio Oiticica enveredaram por um campo sensorial.
GULLAR - Essas experiências-limite foram desenvolvidas pela arte neoconcreta e levadas às últimas conseqüências. Quando a própria Lygia, depois dos "Bichos", começa a fazer experiências com a fita de Moebius no "Caminhando", começa a cortar coisas e a experiência seria ficar cortando infinitamente aquelas formas. Ela própria disse que isso não era mais arte. Depois, ela própria transformou aquilo em terapia, os objetos relacionais. Quando o Hélio faz, por exemplo, os "Parangolés", ele não está mais no terreno da experiência formal, de alguma coisa que eu construo. É uma pessoa qualquer que bota um pano nas costas, tem a ver com uma porta-bandeira de Carnaval.
FOLHA - Você está desencantado com o atual estado da arte e da crítica?
GULLAR - Sim, claro. Porque não tem sentido o cara fazer um tipo de suposta arte que não tem artesanato, não tem técnica, não tem princípio, não tem norma, não tem objetivo nenhum. A gente sabe que não pode ser ensinada para ninguém. O que eles vão deixar para a outra geração? O quê? Como se vê mosca em microscópio? É uma pretensão descabida. Até Bach teve que aprender música para poder compor.
É publicada uma série de bobagens, e a crítica participa disso. Fica aí escrevendo coisas que não tem pé nem cabeça. O que você vai escrever? O cara bota larva de mosca... O que a crítica vai dizer? Essas larvas são boas, são belas larvas? Então, não há crítica para isso. Então, o crítico está sendo expulso e não percebe. Então ele fica escrevendo bobagens, sociologias, especulações filosóficas em torno da larva da mosca. Ah, o que há?
Marcadores: Estética








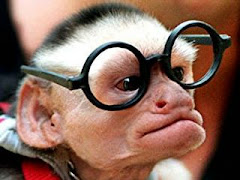


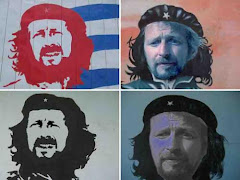



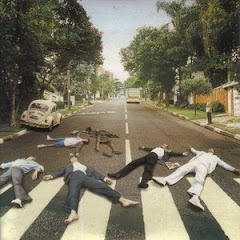






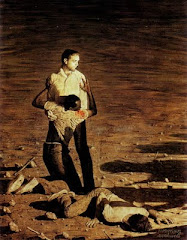







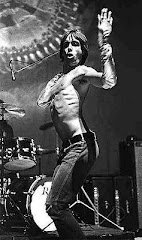
-Trasera.jpg)