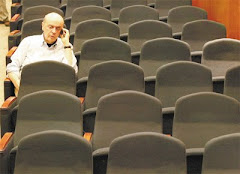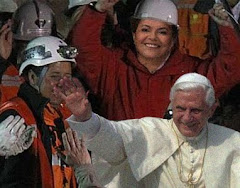Saturday, September 28, 2013
O Capitalismo é Moral?
Marcadores: Autorais, Comte-Sponville
Thursday, September 20, 2007
Isso não nos restituirá o passado, objetar-se-á a Epicuro, nem o que perdemos... Sem dúvida, mas quem pode fazê-lo? A gratidão não anula o luto, consuma-o: "É necessário curar os infortúnios com a lembrança reconhecida do que perdemos, e pelo saber de que não é possível tornar não-consumado o que aconteceu". Pode haver formulação mais bela do trabalho de luto? Trata-se de aceitar o que é, portanto, também o que não é mais, e de amá-lo como tal, em sua verdade, em sua eternidade: trata-se de passar da dor atroz da perda à doçura da lembrança, do luto a consumar ao luto consumado ("a lembrança reconhecida do que perdemos"), da amputação à aceitação, do sofrimento à alegria, do amor dilacerado ao amor apaziguado. "Doce é a lembrança do amigo desaparecido", dizia Epicuro - a gratidão é essa própria doçura, quando se torna alegre. No entanto, o sofrimento é mais forte primeiro: "Que terrível ele ter morrido!" Como poderíamos aceitar? Por isso o luto é necessário, por isso é difícil, por isso é doloroso. Mas a alegria retorna, apesar dos pesares: "Que bom ele ter vivido!" Trabalho do luto: trabalho da gratidão.
André Comte-Sponville - A Gratidão - Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.
Marcadores: Comte-Sponville
André Comte-Sponville - A Misericórdia - Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.
Marcadores: Comte-Sponville
[...] O reconhecimento é um conhecimento (ao passo que a esperança nada mais é que uma imaginação); é por aí que [a gratidão] alcança a verdade, que é eterna e a habita. Gratidão: desfrutar eternidade.
André Comte-Sponville - A Gratidão - Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.
Marcadores: Comte-Sponville
Sunday, September 09, 2007
Misericórdia
A misericórdia, no sentido em que tomo a palavra, é a virtude do perdão - ou antes, e melhor, sua verdade.
O que é, de fato, perdoar? Se entendermos, como certa tradição nos convida a fazer, que é apagar a falta, considerá-la nula e não acontecida, é um poder que não temos, ou uma tolice que é melhor evitar. O passado é irrevogável e toda verdade é eterna: mesmo Deus, notava Descartes, não pode fazer com que o que foi feito não o tenha sido. Nós também não podemos, e para com o impossível ninguém tem obrigação. Quanto a esquecer a falta, além de que, muitas vezes, isso seria faltar com a fidelidade às vítimas (devemos esquecer os crimes do nazismo? devemos esquecer Auschwitz e Ouradour?), seria também uma tolice, quase sempre, e por conseguinte seria faltar com a prudência. Certo amigo seu o traiu: seria inteligente você manter a confiança nele? Certo comerciante o roubou: é imoral trocá-lo? Seria zombar das palavras pretender que sim e ostentar uma virtude bem cega ou bem tola. Caute, dizia Spinoza, cuidado, e não era pecar contra a misericórdia. Seus biógrafos contam também que, tendo sido apunhalado por um fanático, ele conservou a vida inteira seu gibão furado, para não esquecer aquele acontecimento nem, sem dúvida, aquela lição. Isso não quer dizer que ele não tivesse perdoado (veremos que o perdão, em certo sentido, faz parte da exigência da doutrina), mas simplesmente que perdoar não é esquecer. Então, é o quê? É cessar de odiar, e é essa de fato a definição da misericórdia: ela é a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio justificado (pelo que vai além da justiça), o rancor, o desejo de vingança ou de punição. A virtude que perdoa, pois, não suprimindo a falta ou a ofensa, o que não é possível, mas cessando de, como se diz, ter raiva de quem nos ofendeu ou prejudicou. Não é a clemência, que só renuncia a punir (podemos odiar sem punir, assim como punir sem odiar), nem a compaixão, que só simpatiza no sofrimento (podemos ser culpados sem sofrer, assim como sofrer sem ser culpados), nem enfim a absolvição, entendida como o poder - que só poderia ser sobrenatural - de anular os pecados ou as faltas. Virtude singular e limitada, pois, todavia bastante difícil e bastante louvável para ser uma virtude. Cometemos faltas demais, uns e outros, somos miseráveis demais, fracos demais, vis demais, para que ela não seja necessária.
André Comte-Sponville - A Misericórdia - Pequeno Tratado das Grandes Virtudes.
Marcadores: Comte-Sponville








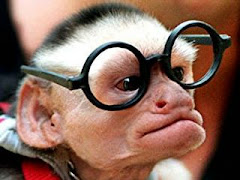


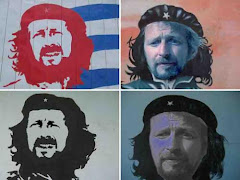



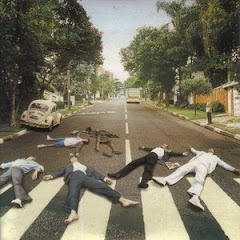






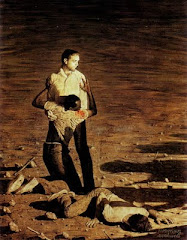







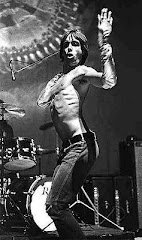
-Trasera.jpg)