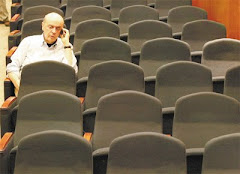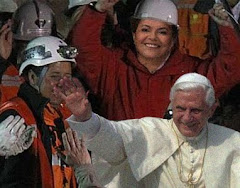Tuesday, July 23, 2013
Saturday, July 09, 2011
Marcadores: Hannah Arendt, sobre julgar, Sobre leituras, sobre pensar
Thursday, July 07, 2011
Marcadores: Hannah Arendt, sobre julgar, Sobre leituras, sobre o mal, sobre pensar
ESTUDOS AVANÇADOS 11 (30), 1997
Celso Lafer, professor titular de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, é chefe da missão do Brasil junto à ONU em Genebra e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil.
* A Reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Hannah Arendt: Pensamento, Persuasão e Poder
Marcadores: Celso Lafer, Hannah Arendt, sobre julgar, sobre pensar
Monday, July 04, 2011
Marcadores: Hannah Arendt, sobre julgar, Sobre leituras, sobre o mal
Saturday, July 02, 2011
Marcadores: Hannah Arendt, sobre julgar, Sobre leituras, sobre o mal
Saturday, June 25, 2011
[...] Pensar e lembrar, dissemos, é o modo humano de deitar raízes, de cada um tomar seu lugar no mundo a que todos chegamos como estranhos. O que em geral chamamos de uma pessoa ou uma personalidade, distinta de um mero ser humano ou de um ninguém, nasce realmente desse processo que deita raízes. Nesse sentido, afirmei que é quase uma redundância falar de uma personalidade moral; sem dúvida, uma pessoa ainda pode ser de boa ou má índole, as suas inclinações podem ser generosas ou mesquinhas, ela pode ser agressiva ou dócil, franca ou dissimulada; pode ser dada a todos os tipos de vícios, assim como pode nascer inteligente ou estúpida, bela ou feia, amável ou um tanto rude. Tudo isso tem pouco a ver com as questões que nos preocupam nesse momento. Caso se trate de um ser pensante, arraigado em seus pensamentos e lembranças e, assim, conhecedor de que tem de viver consigo mesmo, haverá limites para o que se pode permitir fazer, e esses limites não lhe serão impostos de fora, mas auto-estabelecidos. Esses limites podem mudar de maneira considerável e desconfortavelmente de pessoa para pessoa, de país para país, de século para século: mas o mal ilimitado e extremo só é possível quando essas raízes cultivadas a partir do eu, que automaticamente limitam as possibilidades, estão inteiramente ausentes. Elas estão ausentes quando os homens apenas deslizam sobre a superfície dos acontecimentos, quando se deixam levar adiante sem jamais penetrarem em qualquer profundidade de que possam ser capazes. Certamente, essa profundidade também muda de pessoa para pessoa, de século para século, tanto na sua qualidade específica quanto nas suas dimensões. Sócrates acreditava que ensinando as pessoas como pensar, como falar consigo mesmas, uma ação distinta da arte oratória de como persuadir e da ambição do sábio de ensinar o que pensar e como aprender, ele melhoraria seus concidadãos; mas se aceitamos esse pressuposto e perguntamos a Sócrates quais seriam as sanções para aquele famoso crime oculto dos olhos dos deuses e dos homens, a sua resposta só poderia ter sido: a perda dessa capacidade, a perda de estar só, e, como tentei ilustrar, com ela a perda da criatividade - em outras palavras, a perda do eu que constitui a pessoa.
Marcadores: Hannah Arendt, Sobre leituras, sobre o mal, sobre pensar, Sócrates
Por fim, permitam-me lembrar-lhes um dos fenômenos mais assustadores em nossas experiências morais mais recentes. Suponho que todos os senhores já ouviram falar ao menos daqueles assassinos do Terceiro Reich que não só levavam uma impecável vida familiar, como gostavam de passar o seu tempo de lazer lendo Hölderlin e escutando Bach, provando (como se houvesse falta de provas a esse respeito) que os intelectuais podem ser tão facilmente induzidos ao crime quanto qualquer outra pessoa. Mas a sensibilidade e um gosto pelas assim chamadas coisas elevadas da vida não são capacidades do espírito? Sem dúvida, mas a capacidade de apreciação não tem nada a ver com o pensamento, que, devemos lembrar, é uma atividade, e não o desfrute passivo de algo. Na medida em que o pensamento é uma atividade, ele pode ser traduzido em produtos, em coisas como poemas, música ou pinturas. Todas as coisas desse tipo são realmente coisas do pensamento, assim como a mobília e os objetos de nosso uso diário são corretamente chamados objetos de uso: uns são inspirados pelo pensamento e os outros são inspirados pelo uso, por alguma necessidade e carência humana. O ponto importante sobre esses assassinos altamente cultos é que nem um único deles compôs um poema digno de ser lembrado, uma música digna de ser escutada, ou pintou um quadro que alguém gostaria de dependurar nas suas paredes. Sem dúvida, é necessário mais do que o pleno exercício da capacidade de pensar (thoughtfulness) para compor um bom poema, uma música ou pintar um quadro - é necessário um talento especial. Mas nenhum talento suportará a perda de integridade que experimentamos quando perdemos essa capacidade muito comum de pensar e lembrar.
Marcadores: Hannah Arendt, Sobre leituras, sobre o mal, sobre pensar, Sócrates
A primeira coisa que nos chama a atenção nos diálogos socráticos de Platão é que são todos aporéticos. A argumentação ou não leva a lugar nenhum ou anda em círculos.
Marcadores: Hannah Arendt, Sobre leituras, sobre o mal, sobre pensar, Sócrates
Sunday, June 05, 2011
Marcadores: Celso Lafer, Hannah Arendt, Sobre leituras
Saturday, June 04, 2011
Marcadores: da Dignidade da Política, Hannah Arendt
Sunday, May 29, 2011
Marcadores: da Dignidade da Política, Hannah Arendt, postagem n. 2000
Tuesday, July 20, 2010
Marcadores: Hannah Arendt
Tuesday, July 06, 2010
2. A antiguidade [...] conhecia perfeitamente certos tipos de comunidade humana nos quais não era o cidadão da polis nem a res publica em si que estabelecia e determinava o conteúdo da esfera pública; [...] A característica dessas comunidades apolíticas era que o logradouro público, a agora, não constituía lugar de encontro para os cidadãos, e sim mercado, no qual os artífices podiam exibir e trocar produtos. Além disto, na Grécia, os tiranos nutriam a ambição, sempre frustrada, de persuadir os cidadãos a não se imiscuírem em assuntos públicos, a deixar de desperdiçar o tempo em agoreuein e politeuesthai, e de transformar a agora num conjunto de lojas semelhantes aos bazares do despotismo oriental.
[...] Ao contrário do animal laborans, cuja vida é gregária e alheia ao mundo e que, portanto, é incapaz de construir ou habitar uma esfera pública e mundana, o homo faber é perfeitamente capaz de ter a sua própria esfera pública, embora não uma esfera política propriamente dita. A esfera pública do homo faber é o mercado de trocas, no qual ele pode exibir os produtos de sua mão e receber a estima que merece. Esta inclinação para a exibição pública tem muito a ver com a "propensão de negociar, permutar e trocar uma coisa por outra" que, segundo Adam Smith, distingue os homens dos animais [...] "Ninguém jamais viu um cão trocar um osso com outro cão honesta e propositalmente" (Wealth of Nations).
[...] O erro básico [...] é ignorar a inevitabilidade com que os homens se revelam como sujeitos, como pessoas distintas e singulares, mesmo quando empenhados em alcançar um objetivo completamente material e mundano.
3. [uma das funções] da polis, estreitamente relacionada com os riscos da ação tal como experimentada antes que a polis passasse a existir, era remediar a futilidade da ação e do discurso; pois não era muito grande a possibilidade de que um ato digno de fama fosse realmente lembrado e "imortalizado". Homero não foi somente um brilhante exemplo da função política do poeta e, portanto, "o educador de toda a Hélade"; o próprio fato de que um empreendimento grandioso como a guerra de Tróia pudesse ter sido esquecido sem um poeta que o imortalizasse centenas de anos depois, era um lembrete do que poderia ocorrer com a grandeza humana, se esta dependesse apenas dos poetas para garantir sua permanência.
Segundo esta auto-interpretação, a esfera política resulta diretamente da ação em conjunto, da "comparticipação de palavras e atos". A ação, portanto, não apenas mantém a mais íntima relação com o lado público do mundo, comum a todos nós, mas é a única atividade que o constitui. É como se os muros da polis e os limites da lei fossem erguidos em torno de um espaço público preexistente, mas que, sem essa proteção estabilizadora, não duraria, não sobreviveria ao próprio instante da ação e do discurso. Falando metafórica e teoricamente (e não historicamente, é claro), é como se os que regressaram da guerra de Tróia desejassem tornar permanente o espaço da ação decorrente de seus feitos e sofrimentos, e impedir que esse espaço desaparecesse com a dispersão e o regresso de cada um a seu lar.
A rigor, a polis não é a cidade-estado em sua localização física; é a organização da comunidade que resulta do agir e falar em conjunto, e o seu verdadeiro espaço situa-se entre as pessoas que vivem juntas com tal propósito, não importa onde estejam. "Onde quer que vás, serás uma polis": estas famosas palavras não só vieram a ser a senha da colonização grega, mas exprimiam a convicção de que a ação e o discurso criam entre as partes um espaço capaz de situar-se adequadamente em qualquer tempo e lugar. Trata-se do espaço da aparência, no mais amplo sentido da palavra, ou seja, o espaço no qual eu apareço aos outros e os outros a mim; onde os homens assumem uma aparência explícita, ao invés de se contentar em existir meramente como coisas vivas ou inanimadas.
Hannah Arendt - A Condição Humana – 1958
Marcadores: Hannah Arendt
Thursday, April 15, 2010
Marcadores: Hannah Arendt
Saturday, February 13, 2010
Marcadores: Hannah Arendt
Monday, December 28, 2009
ELIO GASPARI
ESTÁ NA PRAÇA um grande livro com a vida de uma mulher fenomenal num século de tragédias. É "Nos Passos de Hannah Arendt", de Laure Adler. Formada na elite da academia alemã dos anos 20, Arendt tornou-se uma refugiada judia em 1933, viveu na França, fugiu para Lisboa e foi para os Estados Unidos em 1941. Tinha 35 anos. Lia os clássicos enquanto vivia numa dieta de grão de bico e repolho. Em Nova York, tornou-se uma das maiores pensadoras do século 20. Era judia e anti-sionista, encantava um pedaço da esquerda e expunha o totalitarismo soviético. Sua obra é uma busca de explicações para as malvadezas humanas. (No Brasil, onde seus livros circulavam livremente, era freguesa da censura à imprensa dos anos 70.)
Adler, que trabalhou com o presidente francês François Mitterrand, mostra a alma de uma geração. A generosidade de Raymond Aron e a militância nazista, escrachada e oportunista, do filósofo Martin Heidegger (paixão de Arendt). O livro modula suavemente discussões filosóficas. A excelente tradução de Tatiana Salem Levy e Marcelo Jacques assegura uma leitura sem obstáculos.
Hannah Arendt mudou o curso de sua vida em 1961, quando propôs à revista "New Yorker" que a mandasse a Jerusalém para cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, o supervisor das deportações do Holocausto. Ele fora seqüestrado por agentes israelenses em Buenos Aires. Numa série de cinco artigos que viraram livro (com algumas alterações), ela criou uma expressão universal: "a banalidade do mal". Arendt evitou a armadilha que explicava tudo a partir da construção de um monstro: "Era difícil não desconfiar que fosse um palhaço". Além disso, foi fundo na condenação das lideranças de sua comunidade na Europa: "Para um judeu, o papel desempenhado pelos líderes judeus na destruição de seu próprio povo é, sem dúvida alguma, o capítulo mais sombrio de toda uma história de sombras".
Adler foi além dos papéis de Arendt e, em seis páginas, mexe num caso que dará tristeza ao professor Celso Lafer, aluno e devoto da pensadora. No livro, Arendt louva uma obra monumental, publicada em 1961 pelo professor Raul Hilberg, da Universidade do Vermont. Chama-se "A Destruição dos Judeus da Europa" e discute o comportamento das lideranças judaicas européias. O livro havia sido rejeitado pela Universidade Princeton e pelo Instituto Yad Vashem. Adler entrevistou Hilberg. Ele avisara: "O que vou lhe dizer de Hannah não é agradável. Você quer realmente saber?"
O professor mostrou-lhe uma carta. Em 1960, Hannah Arendt desaconselhara a publicação do trabalho pela editora de Princeton. Sustentara que era obra inútil, sobre um assunto esgotado. Hilberg já se referira ao lance em 1994, mas discutiu melhor o assunto na conversa com Adler. Arendt rejeitara o livro em 1960 e, depois que ele foi publicado, usou-o (11 citações na versão ampliada de "Eichmann em Jerusalém"), fazendo de conta que nada acontecera.
Um episódio ilustra o racionalidade e o esnobismo de Hannah Arendt. Em março de 1962, ela sofreu um acidente de trânsito no Central Park. Retiraram-na de um táxi com a cabeça ferida, seis costelas e um pulso quebrados. Enquanto esperava a ambulância, mexeu-se e concluiu que não estava paralítica. Em seguida, recitou poemas em grego e lembrou os números dos telefones de alguns amigos. O sistema continuava rodando. Fechou os olhos e aguardou o socorro em paz.
Marcadores: Hannah Arendt, Papai Noel deixou...
Sunday, September 06, 2009
Morpheus: Você é um escravo. Como todo mundo. Você nasceu num cativeiro, nasceu numa prisão que não consegue sentir ou tocar. Uma prisão para sua mente. Infelizmente é impossível dizer o que é Matrix. Você tem de ver por si mesmo.
Labor – Escravidão
1 - O labor é a atividade humana que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da vida.
O labor assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie.
O labor é uma atividade assinalada pela necessidade e concomitante futilidade do processo biológico, do qual deriva, uma vez que é algo que se consome no próprio metabolismo, individual ou coletivo. Porque é atividade que os homens compartilham com os animais, Hannah Arendt qualifica-a como a do animal laborans.
[...] É típico de todo labor nada deixar atrás de si: o resultado do seu esforço é consumido quase tão depressa quanto o esforço é despendido. E, no entanto, esse esforço, a despeito de sua futilidade, decorre de enorme premência; motiva-o um impulso mais poderoso que qualquer outro, pois a própria vida depende dele.
2 - Os antigos [...] achavam necessário ter escravos em virtude da natureza servil de todas as ocupações que servissem às necessidades de manutenção da vida.
A degradação do escravo era um rude golpe do destino, um fado pior que a morte, por implicar a transformação do homem em algo semelhante a um animal doméstico.
Ao contrário do que ocorreu nos tempos modernos, a instituição da escravidão na antiguidade não foi uma forma de obter mão-de-obra barata nem instrumento de exploração para fins de lucro, mas sim a tentativa de excluir o labor das condições da vida humana. Tudo que os homens tinham em comum com as outras formas de vida animal era considerado inumano. (Esta era também, por sinal, a razão da teoria grega, tão mal interpretada, da natureza inumana do escravo. Aristóteles, que sustentou tão explicitamente a sua teoria para depois, no leito de morte, alforriar seus escravos, talvez não fosse tão incoerente como tendem a pensar os modernos. Não negava que os escravos pudessem ser humanos; negava somente o emprego da palavra "homem" para designar membros da espécie humana totalmente sujeitos à necessidade).
As duas qualidades que, segundo Aristóteles, o escravo não possui – e é por causa desses defeitos que ele não é humano – são as faculdades de deliberar e decidir (to bouleutikon) e de prever e escolher (proairesis). Isto é, naturalmente, outra maneira de dizer que o escravo é sujeito à necessidade.
Não possuir lugar próprio e privado. Ser, contra a vontade, servo da necessidade; a verdade é que o emprego da palavra "animal" no conceito de animal laborans, ao contrário do outro uso, muito discutível, da mesma palavra na expressão animal rationale, é inteiramente justificado. O animal laborans é, realmente, apenas uma das espécies animais que vivem na terra – na melhor das hipóteses a mais desenvolvida.
Hannah Arendt – A Condição Humana
Marcadores: Hannah Arendt
Monday, August 03, 2009

Revisão de Theresa Calvet de Magalhães
Resumo: Em meados da década de 1960, quando a relevância do pensamento para a moralidade se convertia em uma das preocupações centrais de Hannah Arendt, ela retoma, no texto aqui traduzido, sua inusitada distinção entre as atividades fundamentais do trabalho, da obra e da ação. Partindo da questão “em que consiste uma vida ativa?”, ela revisita e repõe suas análises de A Condição Humana, ocupando-se novamente com as implicações das inversões hierárquicas entre estas atividades para a vida, para o mundo e, principalmente, para a pluralidade humana. No mesmo sentido, ela examina os princípios que orientam as atividades do animal laborans, do homo faber e do homem de ação, assim como seu significado para a afirmação da liberdade humana e da dignidade da política. Para Hannah Arendt, este é o ponto de partida para pensar sobre o que estamos fazendo.
Marcadores: Hannah Arendt









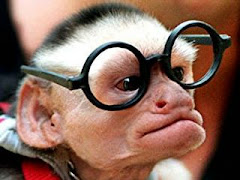


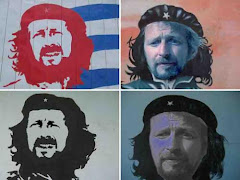



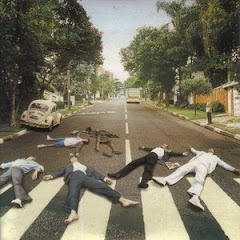






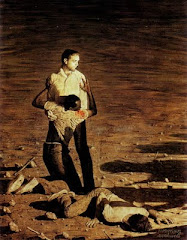







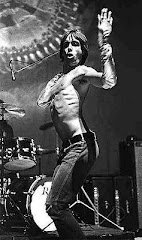
-Trasera.jpg)